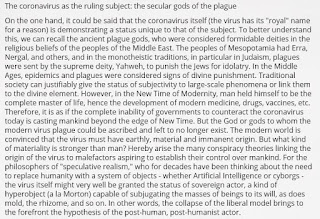Convosco
o limite da inteligência artificial: O Flâneur sai às ruas e sem máscara
desnuda a máquina...
Milton Lima 24-03-2020
Convosco
a rede que não parece pescar,
Que
o deixou parecer à esperança em si de um bom dia,
A
mesma que o perguntaria sem olhar na sua face: o que está pensando?
Que
o esperava na falência de seus órgãos humanos.
Primeiro
governamentais, depois àquela transvertida de imitação da arte,
Que
se esforçaria de modo tão real: que o virtual substituiria o habitual
sentimento.
Que
se esvai pela rede na expressão das fagulhas sopradas sem ventos.
Longe
da fé e na rotina das missas, eis que não mais, contar-se-iam às lágrimas,
Pois,
não é mais permitido chorar seus mortos,
E
se não fosse tal máscara de normal proibida, dir-se-ia que,
Tinha-nos
esquecido nesta rede à medida da pena, que garantisse o direito de não sê-lo
mais humano.
Chorar
a todos os mortos remotamente por suas novas máquinas, assim nos deram os dados
móveis,
E
seu legado tão pobre que é tão rico,
Vir-se-ia
o ser menos humano ser não capaz de pensar por si mesmo.
Ao
fazê-lo ainda sem chip no corpo, se viu impresso em 3D numa pele que não habita
seus ossos,
Percebendo-se
no mundo do medo e trancafiado agora, vira todos os efeitos da desumanização,
Dos
efêmeros traços que a rede aos pouco de ti consumira e que aos poucos lhe
modificaria.
O
que pode sentir no virtual mercado de agora?
Apenas
soará as trombetas quando,
Chegar
o aceite de tudo sem ter lido nada!
E
quando o poder do azeite ungi-lo,
Daí
saberá que hão de avaliá-lo e julgá-lo,
Se
fora um bom avatar e se fizera do limite seu pescado no mar.
E
os contos servir-nos-ão pra quê nestes momentos tão esdrúxulos?
Para
retomar Baudelaire, e saber que as flores com amor conhecem o mal,
Para
se encontrar um espinho no caminho, poder interpretá-lo além do mito.
Parar
e perceber se tais máscaras se vendem e se hão de haver outras; é à hora de
investigá-los,
Dever-se-á
prestar atenção na rede, o que estão lhe vendendo é uma máquina de moer humano.
Para
assim revisar o conto, que se transformara no jardim do jasmim,
Noutro
ponto tecido, que encontrará um Benjamin.
Para
retomar o limite deste legado que o encontro se faz necessário,
Tal
encontro carece escancarar os cárceres das palavras presas,
Para
libertar o que se é humano é preciso prender o que se apresentara como máquina.
A
máquina de guerra que Deleuze avisou-nos, a qual vira o Humberto de tão eco se
comprimir,
E
quando no caminho há uma máquina totalitária a quem Benjamin viu com as flores
nascer,
Eis
que elas, as palavras presas apresentam-se ao nosso presente,
Para
fazer-nos parar e indagar tudo o que brota agora: que limite requer-nos a
máscara na guerra?
Seria
o contente ato de manifestar apenas o direito em respirar o ser não doente?
A
quem chorar os mortos vivos estes que são a nós presos e ocultados pela
máquina?
Ainda
teremos lágrimas?
Senão
as palavras presas na poesia e na filosofia, quem nos despertará se a máscara
não cair?
Voltemos
ao limite que a guerra mental nos provoca com o vírus e o medo da morte.
E
é obvio pra quem que o óbito do ser foi impresso pela máquina, como preparo e
substância,
Que
ao se propagar enquanto palavras cheias do imenso vazio,
Nesta
multidão imatura e tampouco humana, O que é a vida agora? Grita o poeta e
indaga,
Será
mesmo o esquecimento da morte? Responda-me: Humanos ou máquinas?
Substituía-o,
primeiro nos versos dos esquecidos poetas herdados do porão, e depois,
E
depois, e depois, e depois, e depois... Tal máscara é seu sistema e seu próprio
esfacelamento,
Que
quer vê-lo pintado de humano, mas tendo como objetivo lembrá-lo que não pode
mais sê-lo.